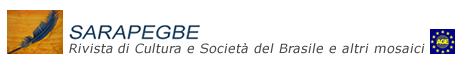Glauber Rocha, il creatore che ho conosciuto
Florisvaldo Mattos

Glauber Rocha e Florisvaldo Mattos. 1976
TESTO IN ITALIANO (Texto em português)A Bahia ci sono ancora gesti di riconoscenza per nomi che hanno fatto molto per la cultura, come quello del compianto amico Glauber Rocha, riconosciuto come una icona della cultura baiana, come un artista dal fortissimo potere creativo. Sebbene sia morto troppo presto, è allo stesso livello di nomi illustri della cultura baiana, come Gregório de Mattos, Castro Alves, Ruy Barbosa, Jorge Amado, Anísio Teixeira e Dorival Caymmi. Secondo me occupa comodamente il podio dei grandi creatori, patrimonio dell'intelligenza brasiliana.
Ho scelto questo titolo per il mio intervento durante un seminario promosso dalla Segreteria dell'Educazione sulla storia del cinema baiano, per il quale mi hanno invitato a parlare di Glauber Rocha, il regista rivoluzionario. Un argomento illustre, al fianco del competente e rinomato professore saggista Umbelino Brasil, e il professor Humberto Alves. Ho voluto guardare la figura di Glauber Rocha dal punto di vista di chi, culturalmente e fraternalmente, ha vissuto con lui per circa otto anni consecutivi, dal momento in cui ha iniziato a dedicarsi alla creazione artistica, giovane inquieto che già rivelava il suo futuro percorso. Il piacere di conoscerlo e frequentarlo si è sviluppato nei foyers e nei cinema, nelle aule dei colleges, sulla porta di librerie, edicole, bar e gelaterie, o in altri momenti che hanno arricchito il percorso di un gruppo brillante di giovani che, per quello che pensava, divulgava e costruiva, è rimasto nella memoria culturale di Bahia sotto l'etichetta di Geração Mapa, .
Per capire cosa fosse la cosiddetta Geração Mapa e cosa significasse anche per lo stesso Glauber Rocha, è necessario prima comprendere come si sia sviluppata a Bahia la presenza del Modernismo e come le idee di questa rivoluzione estetica, innescata dalla Settimana dell'Arte Moderna del 1922, a San Paolo, si diffusero in tutto il Brasile, sempre partendo dagli stati più vicini e arrivando a quelli più lontani. Infatti il Modernismo è arrivato a Bahia con un grande ritardo. Pertanto, l'adesione e il consolidamento totale di questa rivoluzione estetica sarebbe avvenuta solo anni dopo e avrebbe trasformato l'ambiente culturale baiano, influenzando la qualità della produzione di scrittori e artisti. In questa prospettiva, il primo passo fu compiuto da tre poeti, subito dopo la Settimana di Arte Moderna: Godofredo Filho (1904-1992), Carvalho Filho (1908-1994) ed Eurico Alves Boaventura (1909-1974), nato a Feira de Santana, come il primo, che considero il nostro principale e quasi unico poeta futurista.
La seconda ondata si sarebbe verificata con la generazione che agì sotto la guida del poeta Pinheiro Viegas (1874-1937) tra la fine degli anni '20 e l'inizio degli anni '30, chiamata Academia dos Rebeldes, i cui nomi principali erano Jorge Amado, Édison Carneiro, uno dei più grandi etnologi del paese di nome Sosígenes Costa, ora dimenticato, e Alves Ribeiro, uno dei nostri poeti più creativi che sarebbe poi diventato una figura di spicco della Giustizia del Lavoro, João Cordeiro, autore del romanzo "Corja", Clóvis Amorim, che pubblicherà i romanzi "L'ancora" e "Chão de Massapê".
Il terzo momento avverrà solo nel 1948, con la Geração Caderno da Bahia, formata da giovani allora dotati di forti ambizioni intellettuali. Vale la pena menzionare un precedente insolito: a Bahia, il Modernismo nelle arti plastiche venne introdotto nel 1932 dal pittore José Guimarães, cui si deve la prima mostra a Salvador sull'onda del nuovo ordine estetico. Si tenne nel 1932 nella hall del palazzo del quotidiano "A Tarde", in Praça Castro Alves. Egli presentò le nuove idee che illuminavano l'Europa, a partire da Parigi, dove aveva vissuto con esponenti dell'avanguardia nelle arti plastiche. Dopo la mostra Guimarães si spostò a Rio de Janeiro, dove sarebbe morto pochi anni dopo, praticamente ignorato.
Durante questa terza fase sarebbe apparso nel processo qualcosa di nuovo e fondamentale: la presenza di cineasti nelle arti plastiche, cosa che non era accaduta negli anni '20 e '30. I nuovi creatori erano giovani intrisi di idee estetiche progressiste ed erano Mário Cravo, Carlos Bastos, Jenner Augusto, Rubem Valentim, l'argentino Carybé. Erano tutti pittori, ma c'era anche il produttore di arazzi Genaro de Carvalho, e comunque si avvertiva già evidente una forte diversificazione nei linguaggi artistici del movimento. Nella letteratura spiccavano nella prosa Vasconcelos Maia e José Pedreira, mentre nella poesia Wilson Rocha, suo fratello Carlos Eduardo da Rocha, Cláudio Tuiuti Tavares, Camilo de Jesus Lima e il più giovane di tutti, Jair Gramacho. Nel giornalismo e nell'editoria si distinguevano Heron de Alencar e Adalmir da Cunha Miranda, responsabili della fondazione della famosa rivista “Ângulos” presso la Facoltà di Giurisprudenza. Questo amalgama rivelava un nuovo panorama stimolante e molto più ampio nel campo della creatività e produzione artistica.
Il salto successivo, che avrebbe avuto luogo nella seconda metà degli anni Cinquanta, coprendo l'intero decennio del '60, fu proprio quella del gruppo di giovani che, guidati da Glauber Rocha, avrebbe intrapreso una creazione artistica con nuove opzioni linguistiche. Tra loro c'erano artisti plastici, come il pittore Sante Scaldaferri, Hélio Oliveira, un incisore ispirato morto all'età di 31 anni nel 1960, e il maestro dell'incisione Calazans Neto. Prosa e poesia proliferavano, ora con Fernando da Rocha Peres, João Carlos Teixeira Gomes, Carlos Anísio Melhor, Paulo Gil Soares, Fred Souza Castro, ma con novità inedite: al centro di questo movimento culturale emerse un nuovo linguaggio artistico, ovvero il Cinema che portò con sé anche il Teatro. La grande riforma che il rettore Edgard Santos intraprese presso Università di Bahia, che poi sarebbe stata federalizzata, favorì molto questo incontro culturale di giovani. Ancora oggi riconosciamo che portò avanti una grande opera perchè proprio da lì nacquero Scuole d'Arte, di Teatro, Musica e Danza, e si ebbe la ristrutturazione della Scuola di Belle Arti che esisteva dal XIX secolo, ma sarebbe arrivata a lavorare con il design moderno proprio a partire da questo potente rettorato.
Tutte queste azioni sono state molto importanti perché hanno donato nuovi ideatori, creatori e nuovi animatori al processo culturale di Bahia, come Martins Gonçalves, creatore della Scuola di Teatro, Ernst Widmer alla Scuola di Musica; per l'architettura Lina Bo Bardi, poi fondatrice del Museo d'Arte Moderna di Bahia. Molti dei componenti della generazione hanno vissuto insieme e alcuni hanno anche lavorato con Lina Bo Bardi, presso la sede del MAM-BA, fondata su ciò che restava dell'incendio del Teatro Castro Alves nel 1958. Rimasero in piedi solo il foyer e il palco. Con la sua intelligenza creativa Lina Bo Bardi li restaurò dando loro un nuovo significato. Realizzò il foyer della sala espositiva del museo e nello spazio sotto il palco allestì una sorta di struttura amministrativa. Il Museo iniziò a funzionare lì finché nel 1963 il governatore Juraci Magalhães decise di stabilire la sede del Museo di Arte Moderna nel complesso del Solar do Unhão con tutte le sue dipendenze, la Chiesa, la Cappella e altri locali che nel passato erano stati "senzalas" di africani schiavizzati.
La "Geração Mapa" si sviluppò in una Bahia in piena effervescenza culturale per affermare la sua vocazione per le Lettere e le Arti, siano esse letteratura, poesia, arti plastiche, ma anche Cinema e Teatro. Aveva bisogno di avere un leader, una figura espressiva, un talento insolito, qualità che si concentrarono naturalmente su Glauber Rocha. Ci incontrammo la prima volta quando aveva circa 14 anni in un cinema, subito dopo l'apertura del Cine Guarany, nel luogo dove anteriormente si trovava il Teatro Carlos Gomes. Lui era un adolescente dai capelli ribelli, quasi un ragazzo innamorato del cinema.
Ci presentò Walter da Silveira, che avevo conosciuto grazie al poeta Sosígenes Costa. Dato che avevo studiato a Ilhéus, visitai Sosígenes nel suo ufficio presso la segreteria dell'Associazione commerciale di Ilhéus, apprendendo proprio da lui novità sulla poesia moderna. Walter da Silveira era una specie di guru del cinema, il principale conoscitore di quest'arte a Bahia. Oltre a Glauber, come critico, ha influenzato altri che sarebbero venuti dopo, come Orlando Sena, Hamilton Correia, José Humberto tra gli altri, poche persone, ma sarebbero state note grazie a lui. Dal momento in cui venimmo presentati, ci incrociammo varie volte al cinema, compreso durante le anteprime al Cine Guarany, che sarebbe diventata una consuetudine domenicale, o al Clube Cinema, creato proprio da Walter da Silveira, in sporadiche presentazioni di libri, mostre arte e altri eventi.

Integranti della G.M.
Il giovane Glauber si trovava nella fase in cui cercava di crescere, di affermarsi culturalmente. Ci incrociammo spesso finchè io divenni spettatore degli spettacoli di poesia teatrale, le famose “Jogralescas”, che lui e altri della generazione, ancora liceali, portarono nell'auditorium del Colégio da Bahia, che dopo divenne Colégio Central. Il gruppo era composto da una quindicina di persone, che recitavano poesie di modernisti, come Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Mário de Andrade, Jorge de Lima, Manuel Bandeira, cioè poeti del modernismo che in un certo modo, nella seconda metà degli anni '50, costituivano ancora una novità a Bahia, ma di tale forza da provocare scandalo nell'ambiente culturale e minacce che richiesero la mediazione di pacificatori dentro e fuori la scuola. Calasans Neto faceva lo scenografo, Glauber divenne l' organizzatore, scrisse sceneggiature e diresse i tre spettacoli di questa straordinaria avventura culturale.
Dato che io studiavo alla Facoltà di Giurisprudenza e lui era ancora alla fine del liceo, durante un'epoca ci incontrammo poco; ma ricordo l'incontro che mi avrebbe lanciato in questo flusso di sogni, con una cornice esotica, se non comica. Avevo appena pubblicato nel numero 11 della rivista Ângulos la poesia dal titolo “Composizione della ferrovia”, quasi un inno tellurico alla Compagnia Ferroviaria Sud-Occidentale dello Stato di Bahia, antico nome della mitica E. F. I. C. (Ferrovia da Ilhéus a Conquista), che civilizzò e sviluppò la regione del Cacao, permettendo l'emergere di villaggi che presto sarebbero diventati città e comuni. Fu allora che, una mattina, credo fosse il marzo 1957, io, seduto su una delle panchine nell'atrio del palazzo, vidi giungere un portiere il quale mi disse che all'entrata c'era un gruppo di giovani che mi stavano cercando. Uscii e incontrai cinque facce quasi senza barba. Uno di loro mi salutò e, specificando che parlava a nome di tutti gli altri, esclamò con enfasi: “Siamo venuti qui per incontrare l'autore della poesia Composizione della ferrovia, per noi è il miglior poeta modernista di Bahia”.
Mi insospettii, ma, tra lo spaventato e l' incredulo, lo ringraziai per il gesto esilarante. Nome dell'eccentrico portavoce: Glauber Rocha, che poi mi invitò a casa sua al primo piano di via General Labatut, 13, dove era solito incontrare i suoi compagni per discutere su un elenco quasi infinito di preoccupazioni e aspirazioni moderniste.E come sarebbe avvenuto questo incontro? Dona Lúcia Rocha, la madre di Glauber, aveva una pensione a Barris, nella stessa strada, numero 14. Tutti noi allora vivevamo perennemente squattrinati. Ogni volta che Glauber ci invitava, prima andavamo in gruppo a pranzare alla pensione della sua amata madre. Poi la sera andavamo a casa sua.
Lì, nella stanza di Glauber, dove c'erano due letti singoli, ci sedevamo in otto o forse dieci, e discutevamo di letteratura, belle arti, teatro e cinema, leggendo brani di libri di autori e registi famosi, come il russo Eisenstein, il francese André Bazin, i creatori del neorealismo italiano, come Fellini, Visconti, Rosselini, i grandi di Francia, René Clair, Jean Renoir, Jean Cocteau e altri, gli americani che amava - Orson Wells, John Ford, Hitchcock, Bill Wilder e molti altri ancora. In quella stanza, a prova di cultura, ognuno parlava di un libro di prosa o di poesia che aveva letto, di un film che aveva visto, di una mostra di belle arti, e ognuno commentava arte e letteratura. Funzionava come una sorta di cooperativa di pensiero giovanile, con due letti come testimoni. A diciannove anni il futuro regista sembrava un creatore visivo. Vedeva scene di films in ogni cosa; descriveva come quella scena poteva essere vista, costruita, fotografata, filmata; tutto per lui poteva essere inquadrato. Quando una persona stava seduta su una sedia e parlava con un'altra persona, lui si metteva di fronte come se avesse la macchina fotografica in mano, indicando come sarebbe stata costruita l'immagine.
C'è un altro aspetto della mia relazione con Glauber Rocha. In quell'epoca le riforme dell'Università di Bahia permettevano che la pioniera Scuola di Teatro, situata nel quartiere di Canela, presentasse novità a tutti, prendendo brani del calibro dell' Amleto di Shakespeare, Madre Coraggio e l'Opera da Tre Soldi di Bertholt Brecht, Caligola di Albert Camus, tra altri di grande rilevanza.
All'epoca a Bahia fu fondato anche un nuovo giornale, che arrivò con l'intenzione di competere con il prestigio indissolubile di "A Tarde", e stava per accadere davvero. Il "Jornal da Bahia" venne considerato la nascita di un nuovo giornalismo. A tal fine si costituì una redazione che operava in maniera diversa e superiore rispetto a quella dei concorrenti, in quanto parte dei suoi componenti studiava all'università. È interessante notare che la Facoltà di Giurisprudenza ha fornito il maggior numero di componenti a questo gruppo, seguita da Medicina, Filosofia e Scienze umane.
Per far funzionare questa redazione, il giornale aveva bisogno che la sua composizione prendesse le distanze dallo spirito accademico passivo che ancora prevaleva in quello dei concorrenti, visto come resistente al muro del conservatorismo nello stile e nelle prestazioni. All'epoca, Glauber Rocha, che già frequentava la Facoltà di Giurisprudenza (che lasciò al primo anno), venne invitato a lavorare nella redazione del nuovo giornale e, per aiutare, cercò subito altri giovani della sua cerchia indicandoli alla direzione del “Jornal da Bahia”. Io fui uno di loro. È interessante notare che il futuro regista Glauber per me era un giornalista nell'animo. Tant'è che, per formare la base di contenuti per i suoi futuri film, come "Il Dio nero e il Diavolo biondo", "Antonio das Mortes" e "Terra in Trance", intraprese subito un viaggio nel Nordest. Questa esperienza è stata raccontata da João Carlos Teixeira Gomes, suo compagno di viaggio, nel settimanale "Caderno Cultural" de “A Tarde”. In esso, l'intenzione era di raccogliere sussidi essenziali per assemblare le sceneggiature dei suoi film, il che avrebbe notevolmente potenziato la sua arte cinematografica.
Noi quattro andammo al "Jornal da Bahia", eravamo io, João Carlos Teixeira Gomes e Paulo Gil Soares, per reportagens generali, Calazans Neto per il layout, mentre Glauber lavorava come redattore di cronaca nera. E qui c'è una delle sue storie che nessuno racconta. Io mi ricordo com'era il giornalista Glauber redattore di cronaca nera: fondamentalmente giornalista cineasta e cineasta giornalista, dal momento che assunse la funzione con il pensiero di cambiare il modo in cui venivano affrontate le questioni poliziesche, il modo in cui erano generalmente visti i crimini e le violazioni dell'ordine sociale.
Poiché il rapporto della polizia in quel momento, a Salvador, mostrava ancora tracce di una narrativa vecchia, Glauber disse che voleva qualcosa di diverso. Ci sono esempi. Ne ricordo uno, quello di un giorno in cui un ragazzo si era suicidato nella "città bassa" e faceva il semplice cameriere in una tavola calda all'ingresso dell'Elevador Lacerda. Glauber disse: "Facciamo l'articolo raccontando la storia di questo ragazzo", mostrando già che il caso non sarebbe stato trattato nello stile dell'attuale narrativa poliziesca. Quindi chiese al capo redattore se poteva avere un aiuto e scelse me: “Guarda, voglio che siaFlorisvaldo a fare questo lavoro”. Ascoltate le sue istruzioni, uscii dalla redazione facendo il tipico pellegrinaggio di chi deve raccontare una storia al cui centro c'è un personaggio praticamente senza storia. Quando arrivai alla tavola calda chiesi che mansione svolgesse lì il suicida. "Qui lui lavava i piatti." Rimasi colpito e da lì iniziai a raccogliere dati, seguendo varie piste.
Arrivai all'edificio dove si era ucciso, accanto alla chiesa Conceição da Praia, in una stanza al terzo piano. Lì annotai tutto ciò che serviva al contenuto della narrazione, intervistai persone che lo conoscevano e poi, con una mossa fortunata, seppi che aveva una ragazza che faceva la cassiera di una farmacia. Dato che c'erano poche farmacie, fu facile trovarla.
Lei viveva a Ribeira. Andai insieme a lei in autobus fino a casa sua, mi sedetti accanto a lei per intervistarla. Mi raccontò la sua storia e quella del fidanzamento. Scoprii che lei aveva inviato al giovane un biglietto per terminare il fidanzamento con lui e fu proprio questo il motivo del disincanto che portò il poveretto a porre fine alla sua vita. Aveva paura che il suo nome fosse pubblicato, stampato come notizia.
Avevo lasciato il giornale all'una; dopo tutto quel giro rientrai che erano le sette di sera. Mi sedetti davanti alla macchina Remington, scrissi la storia. Nell'edizione del giorno successivo, il racconto con la storia del giovane suicida occupava quasi tutta la pagina della sezione di cronaca nera, con la riproduzione del biglietto della fidanzata. Fu lì che venne fuori il vero Glauber, nel ruolo di redattore di cronaca nera. Infatti agì come un vero regista, come se pensasse alla sceneggiatura di un film. I fatti dovrebbero essere narrati come se si stesse componendo una sceneggiatura cinematografica. Per questi ed altri motivi lui era una straordinaria figura di giornalista.
In un'altra fase, poco tempo dopo, lavorai con Glauber per circa tre anni nel quotidiano "Diário de Notícias", finché si trasferì a Rio de Janeiro nel 1962. L'evento più importante accadde con la creazione del supplemento Domenica, resa celebre dalla sigla SDN, in grassetto in copertina. Lui, Paulo Gil e io, con la supervisione del giornalista Inácio de Alencar, allora redattore capo del giornale, praticamente inserimmo la "Geração Mapa" in questo supplemento che ancora oggii è un riferimento della storia culturale di Bahia della seconda metà del XX secolo, oggetto di ricerca nel campo degli studi universitari e per tutti gli studiosi. Nel “Diário de Notícias” svolse formalmente il ruolo di redattore per i racconti degni della prima pagina, ma fu anche l'ideatore della rubrica “Krista”, guidata da Helena Ignez, già attrice di teatro e cinema e sua compagna.
Come ho detto, stare accanto a Glauber Rocha, il regista, il giornalista, l'appassionato di cultura e l'amico sincero e solidale, avvenne praticamente ogni giorno fino al suo trasferimento a Rio dove si affermarono il suo nome, la sua opera cinematografica e molteplici azioni culturali. Guadagnò la notorietà nel mondo ed è forse la star più brillante della costellazione del cinema in Brasile. Anche quando si stabilì all'estero mi spediva lettere. Ecco perchè non mi stanco di dire: ero il suo ammiratore e fummo amici fino alla sua morte avvenuta il 22 agosto 1981. Ci manca ancora immensamente.
Non potrei concludere questo viaggio quasi tutto evocativo, senza fare riferimento ai tratti di Glauber Rocha, che potrebbero apparire contraddittori, vista la serietà che mostrava la sua personalità. A questo proposito, ricordo un episodio tanto comico quanto surreale, con protagonisti alcuni della nostra classe in una notte bohémienne. A metà ottobre 1958, un mese dopo la sua fondazione, il “Jornal da Bahia” effettuò il primo pagamento ai redattori, e così andammo in direzione per ricevere ciò che pensavamo di meritare. Prendemmo i soldi alla cassa e, di notte, insieme ad altri, felici e contenti, andammo tutti al Tabaris Night Club, una discoteca di musica e danza, frequentata da bohémiens e gente ricca.
Si presentava un balletto argentino composto da bellissime bionde e brune che ballavano il repertorio musicale alla moda - bolero, mambo, rumba , conga e tango - al suono di un'orchestra accordata e intelligente di fiati, archi e percussioni. Era comune durante le pause, come parte dell'attrazione, che le ballerine venissero ai tavoli per parlare, bere e persino ballare con i clienti. In questa serata inaugurale con donne al tavolo, bibite ecc, dopo uscimmo insieme alle donne del balletto. Fu allora che, verso mezzanotte, Glauber, protestante devoto, astemio totale, improvvisamente più irrequieto del solito, censurò i protagonisti della scena e protestò contro ciò che considerava eccessivo. All'improvviso, accigliato, salì su um tavolo e, alzandosi, iniziò a gridare, come fosse posseduto: “È assurdo! Portate quelle donne di Babilonia fuori di qui! " E, con un tono di esecrazione biblica, ripeté l'ultima frase più di una volta: "Portate queste donne di Babilonia fuori di qui!" Stordite, le ragazze e le compagne intorno a lui lo pregarono di calmarsi e di scendere. Quelli che erano seduti agli altri tavoli si fecero apprensivi. Fu allora che, in risposta alle grida, tra il serio e il bonario, il giocherellone "pastore ecclesiastico" scese dal tavolo provocando ilarità e risate.
L'EDIZIONE DEL MATTINO
(In memoria di Glauber Rocha, artista, amico e collega al giornale)
di
Florisvaldo Mattos
Non so altro che quello che mi dicono
gli ebdomadari perseguitati
i diari mancanti
libri censurati burocraticamente
i discorsi mai pronunciati
Tanto
di dolore claustrale
di rabbia contenuta
memoria disperata
Tanto
di letame pietrificato
di indebito martirio
fiele del verme dei fiori
Come in tutta l'esperienza umana
Come in tutte le verità proclamate
C'è il segno indelebile della sofferenza
sulle pagine infuriate
Non so altro che quello che mi dicono
rapporti
sormontati da tipi di scatola nera
vomitare
attraverso le finestre degli uffici
attraverso il cortile della scuola
capelli verdi
prati di giardini comunali
dalle officine meccaniche
attraverso le sbarre
spiagge e stadi sovraffollati
in autobus
in treno
in aereo
e navi che trasportano petrolio
dal mare
tutte le strade che iniziano nell'infanzia
Tutto ciò che la terra taceva e l'aria dimenticava
Tutto l'acqua è annegata e il fuoco ardeva
Tutto ciò che il sole nascondeva e la luna si bloccava
Tutto il giorno offuscato e la notte offesa
Attraverso questa finestra spalancata di fronte al mare
con l'orizzonte lustrato di nuvole chiare
la mattina di un dicembre morente
esplosioni di blu mi portano la storia
di tutto
timbrato sulle pagine con furia
dove non c'è segno grafico
senza nome
solo linee di sangue
vergogna e disperazione
Qualcosa letto non so dove
ma presto dimenticato
Qualcosa di scritto non so dove
ma presto cancellato
Qualcosa di riferito assenza
ma presto giustificato
Qualcosa di presenza intollerante
ma presto permesso
Qualcosa di dubbio sostenuto
ma presto annullato
Qualcosa che ha violato l'anima
ma presto con raffinato rigore
Qualcosa di stupefacente che popola le mura
Qualcosa con un pugnale che acceca le menti
Qualcosa di catastrofico nel rifugio dei miti
che non è mai venuto alla luce né è stato spiegato
Vieni da me attraverso la porta aperta di questa estate malata
echeggiando sul balcone delle pagine deserte
di edizioni che sanguinano goccia a goccia
nei reparti dell'accadere
(da ieri
di oggi
di domani
mai)
e acquista una velocità spaventosa
Perché la luce è forte e assordante
Perché il mare agitato si fa buio
Perché il vento viene ed esercita
il potere di lanciare la schiuma
contro le stelle addormentate
Perché la polvere della strada si annerisce
le vesti sulle corde abbandonate
Perché è presto e sappiamo tutti che è tardi
Appare un nuovo ciclope all'orizzonte
I corpi volano sui grattacieli
Perché la carne esausta si stacca
dalle ossa prima che il sale voli
Non so altro che quello che mi dicono
le pagine furiose dei diari muti
Responsabile Reportage Morto
Ed eravamo tutti tristi
Il crepuscolo della notte avanza attraverso l'alba
La nebbia è fitta e le macchine
scontro con i fari spenti
Vogliamo un'agenda
qualsiasi script
Non ciò che porta a chiarimenti
di tutta la colpa
Non cerchiamo di svelare l'impossibile
Vogliamo un'agenda
un percorso (ad esempio)
Comincia con gli articoli dei negozi di giocattoli
procedere con la quotazione per le ore di svago
Elenca la birra alla spina di tutte le taverne
Che riproduce tutte le risate del perimetro urbano
Questo fornisce il bollettino meteorologico più sicuro
Fagli sapere cosa sta succedendo nei cinema
Che nasconde i rifiuti gettati sui monumenti
Ciò stimola il Ba-Vi delle prime illusioni
Ciò apre i cuori ai riti del Candomblé
Questo dà versi alle canzoni del trio eletrico
Che vista del sudario dei festaioli di tutti i giorni
Questo prepara lo spirito di tutti per il carnevale
E quindi solo seguendo
il corso luminoso
di ogni segno morto
perforazione nella sabbia
di pagine deserte
bobine dell'orrore
macchie di vernice fresca
pista di piombo e insonne
Allora piangerò
tra le macerie
dell'edizione mattutina
(Salvador, agosto 1981)
Traduzione dal portoghese di Antonella Rita Roscilli
____________________________________________________________________________________
Florisvaldo Mattos. Nato a Uruçuca, Bahia (Brasile), è poeta e giornalista; professore in pensione presso la UFBA-Università Federale di Bahia, membro del gruppo nucleare della Geração Mapa, che si sviluppò a Salvador Bahia negli anni '60, sotto la guida del regista Glauber Rocha. Attualmente occupa il seggio n. 31 della ALB- Academia de Letras da Bahia. È autore dei seguenti libri: Reverdor, 1965, Fábula Civil, 1975, A Caligrafia do Soluço & Poesia Anterior, 1996 (Prêmio Ribeiro Couto, da União Brasileira de Escritores), Mares Anoitecidos, 2000, Galope Amarelo e outros poemas, 2001, Poesia Reunida e Inéditos, 2011, Sonetos elementais, 2012; Estuário dos dias e outros poemas, 2016, Antologia Poética e Inéditos, 2017 (todos de poesia); Estação de Prosa & Diversos, (collezione di saggi, racconti e teatro, 1997); e A Comunicação Social na Revolução dos Alfaiates, 2018 (3ª edição), e Travessia de oásis - A sensualidade na poesia de Sosígenes Costa, 2004, ambedue saggi. Ha lasciato il giornalismo nel 2011, nella posizione di Direttore editoriale del famoso quotidiano A Tarde, di Salvador (BA), dove aveva precedentemente diretto, dal 1990 al 2003, la sezione “Cultura”, premiata nel 1995 dall'Associazione dei Critici d'Arte di San Paolo - APCA.
© SARAPEGBE.
E’ vietata la riproduzione, anche parziale, dei testi pubblicati nella rivista senza l’esplicita autorizzazione della Direzione
-------------------------------------------------------------------------------Ho scelto questo titolo per il mio intervento durante un seminario promosso dalla Segreteria dell'Educazione sulla storia del cinema baiano, per il quale mi hanno invitato a parlare di Glauber Rocha, il regista rivoluzionario. Un argomento illustre, al fianco del competente e rinomato professore saggista Umbelino Brasil, e il professor Humberto Alves. Ho voluto guardare la figura di Glauber Rocha dal punto di vista di chi, culturalmente e fraternalmente, ha vissuto con lui per circa otto anni consecutivi, dal momento in cui ha iniziato a dedicarsi alla creazione artistica, giovane inquieto che già rivelava il suo futuro percorso. Il piacere di conoscerlo e frequentarlo si è sviluppato nei foyers e nei cinema, nelle aule dei colleges, sulla porta di librerie, edicole, bar e gelaterie, o in altri momenti che hanno arricchito il percorso di un gruppo brillante di giovani che, per quello che pensava, divulgava e costruiva, è rimasto nella memoria culturale di Bahia sotto l'etichetta di Geração Mapa, .
Per capire cosa fosse la cosiddetta Geração Mapa e cosa significasse anche per lo stesso Glauber Rocha, è necessario prima comprendere come si sia sviluppata a Bahia la presenza del Modernismo e come le idee di questa rivoluzione estetica, innescata dalla Settimana dell'Arte Moderna del 1922, a San Paolo, si diffusero in tutto il Brasile, sempre partendo dagli stati più vicini e arrivando a quelli più lontani. Infatti il Modernismo è arrivato a Bahia con un grande ritardo. Pertanto, l'adesione e il consolidamento totale di questa rivoluzione estetica sarebbe avvenuta solo anni dopo e avrebbe trasformato l'ambiente culturale baiano, influenzando la qualità della produzione di scrittori e artisti. In questa prospettiva, il primo passo fu compiuto da tre poeti, subito dopo la Settimana di Arte Moderna: Godofredo Filho (1904-1992), Carvalho Filho (1908-1994) ed Eurico Alves Boaventura (1909-1974), nato a Feira de Santana, come il primo, che considero il nostro principale e quasi unico poeta futurista.
La seconda ondata si sarebbe verificata con la generazione che agì sotto la guida del poeta Pinheiro Viegas (1874-1937) tra la fine degli anni '20 e l'inizio degli anni '30, chiamata Academia dos Rebeldes, i cui nomi principali erano Jorge Amado, Édison Carneiro, uno dei più grandi etnologi del paese di nome Sosígenes Costa, ora dimenticato, e Alves Ribeiro, uno dei nostri poeti più creativi che sarebbe poi diventato una figura di spicco della Giustizia del Lavoro, João Cordeiro, autore del romanzo "Corja", Clóvis Amorim, che pubblicherà i romanzi "L'ancora" e "Chão de Massapê".
Il terzo momento avverrà solo nel 1948, con la Geração Caderno da Bahia, formata da giovani allora dotati di forti ambizioni intellettuali. Vale la pena menzionare un precedente insolito: a Bahia, il Modernismo nelle arti plastiche venne introdotto nel 1932 dal pittore José Guimarães, cui si deve la prima mostra a Salvador sull'onda del nuovo ordine estetico. Si tenne nel 1932 nella hall del palazzo del quotidiano "A Tarde", in Praça Castro Alves. Egli presentò le nuove idee che illuminavano l'Europa, a partire da Parigi, dove aveva vissuto con esponenti dell'avanguardia nelle arti plastiche. Dopo la mostra Guimarães si spostò a Rio de Janeiro, dove sarebbe morto pochi anni dopo, praticamente ignorato.
Durante questa terza fase sarebbe apparso nel processo qualcosa di nuovo e fondamentale: la presenza di cineasti nelle arti plastiche, cosa che non era accaduta negli anni '20 e '30. I nuovi creatori erano giovani intrisi di idee estetiche progressiste ed erano Mário Cravo, Carlos Bastos, Jenner Augusto, Rubem Valentim, l'argentino Carybé. Erano tutti pittori, ma c'era anche il produttore di arazzi Genaro de Carvalho, e comunque si avvertiva già evidente una forte diversificazione nei linguaggi artistici del movimento. Nella letteratura spiccavano nella prosa Vasconcelos Maia e José Pedreira, mentre nella poesia Wilson Rocha, suo fratello Carlos Eduardo da Rocha, Cláudio Tuiuti Tavares, Camilo de Jesus Lima e il più giovane di tutti, Jair Gramacho. Nel giornalismo e nell'editoria si distinguevano Heron de Alencar e Adalmir da Cunha Miranda, responsabili della fondazione della famosa rivista “Ângulos” presso la Facoltà di Giurisprudenza. Questo amalgama rivelava un nuovo panorama stimolante e molto più ampio nel campo della creatività e produzione artistica.
Il salto successivo, che avrebbe avuto luogo nella seconda metà degli anni Cinquanta, coprendo l'intero decennio del '60, fu proprio quella del gruppo di giovani che, guidati da Glauber Rocha, avrebbe intrapreso una creazione artistica con nuove opzioni linguistiche. Tra loro c'erano artisti plastici, come il pittore Sante Scaldaferri, Hélio Oliveira, un incisore ispirato morto all'età di 31 anni nel 1960, e il maestro dell'incisione Calazans Neto. Prosa e poesia proliferavano, ora con Fernando da Rocha Peres, João Carlos Teixeira Gomes, Carlos Anísio Melhor, Paulo Gil Soares, Fred Souza Castro, ma con novità inedite: al centro di questo movimento culturale emerse un nuovo linguaggio artistico, ovvero il Cinema che portò con sé anche il Teatro. La grande riforma che il rettore Edgard Santos intraprese presso Università di Bahia, che poi sarebbe stata federalizzata, favorì molto questo incontro culturale di giovani. Ancora oggi riconosciamo che portò avanti una grande opera perchè proprio da lì nacquero Scuole d'Arte, di Teatro, Musica e Danza, e si ebbe la ristrutturazione della Scuola di Belle Arti che esisteva dal XIX secolo, ma sarebbe arrivata a lavorare con il design moderno proprio a partire da questo potente rettorato.
Tutte queste azioni sono state molto importanti perché hanno donato nuovi ideatori, creatori e nuovi animatori al processo culturale di Bahia, come Martins Gonçalves, creatore della Scuola di Teatro, Ernst Widmer alla Scuola di Musica; per l'architettura Lina Bo Bardi, poi fondatrice del Museo d'Arte Moderna di Bahia. Molti dei componenti della generazione hanno vissuto insieme e alcuni hanno anche lavorato con Lina Bo Bardi, presso la sede del MAM-BA, fondata su ciò che restava dell'incendio del Teatro Castro Alves nel 1958. Rimasero in piedi solo il foyer e il palco. Con la sua intelligenza creativa Lina Bo Bardi li restaurò dando loro un nuovo significato. Realizzò il foyer della sala espositiva del museo e nello spazio sotto il palco allestì una sorta di struttura amministrativa. Il Museo iniziò a funzionare lì finché nel 1963 il governatore Juraci Magalhães decise di stabilire la sede del Museo di Arte Moderna nel complesso del Solar do Unhão con tutte le sue dipendenze, la Chiesa, la Cappella e altri locali che nel passato erano stati "senzalas" di africani schiavizzati.
La "Geração Mapa" si sviluppò in una Bahia in piena effervescenza culturale per affermare la sua vocazione per le Lettere e le Arti, siano esse letteratura, poesia, arti plastiche, ma anche Cinema e Teatro. Aveva bisogno di avere un leader, una figura espressiva, un talento insolito, qualità che si concentrarono naturalmente su Glauber Rocha. Ci incontrammo la prima volta quando aveva circa 14 anni in un cinema, subito dopo l'apertura del Cine Guarany, nel luogo dove anteriormente si trovava il Teatro Carlos Gomes. Lui era un adolescente dai capelli ribelli, quasi un ragazzo innamorato del cinema.
Ci presentò Walter da Silveira, che avevo conosciuto grazie al poeta Sosígenes Costa. Dato che avevo studiato a Ilhéus, visitai Sosígenes nel suo ufficio presso la segreteria dell'Associazione commerciale di Ilhéus, apprendendo proprio da lui novità sulla poesia moderna. Walter da Silveira era una specie di guru del cinema, il principale conoscitore di quest'arte a Bahia. Oltre a Glauber, come critico, ha influenzato altri che sarebbero venuti dopo, come Orlando Sena, Hamilton Correia, José Humberto tra gli altri, poche persone, ma sarebbero state note grazie a lui. Dal momento in cui venimmo presentati, ci incrociammo varie volte al cinema, compreso durante le anteprime al Cine Guarany, che sarebbe diventata una consuetudine domenicale, o al Clube Cinema, creato proprio da Walter da Silveira, in sporadiche presentazioni di libri, mostre arte e altri eventi.

Integranti della G.M.
Il giovane Glauber si trovava nella fase in cui cercava di crescere, di affermarsi culturalmente. Ci incrociammo spesso finchè io divenni spettatore degli spettacoli di poesia teatrale, le famose “Jogralescas”, che lui e altri della generazione, ancora liceali, portarono nell'auditorium del Colégio da Bahia, che dopo divenne Colégio Central. Il gruppo era composto da una quindicina di persone, che recitavano poesie di modernisti, come Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Mário de Andrade, Jorge de Lima, Manuel Bandeira, cioè poeti del modernismo che in un certo modo, nella seconda metà degli anni '50, costituivano ancora una novità a Bahia, ma di tale forza da provocare scandalo nell'ambiente culturale e minacce che richiesero la mediazione di pacificatori dentro e fuori la scuola. Calasans Neto faceva lo scenografo, Glauber divenne l' organizzatore, scrisse sceneggiature e diresse i tre spettacoli di questa straordinaria avventura culturale.
Dato che io studiavo alla Facoltà di Giurisprudenza e lui era ancora alla fine del liceo, durante un'epoca ci incontrammo poco; ma ricordo l'incontro che mi avrebbe lanciato in questo flusso di sogni, con una cornice esotica, se non comica. Avevo appena pubblicato nel numero 11 della rivista Ângulos la poesia dal titolo “Composizione della ferrovia”, quasi un inno tellurico alla Compagnia Ferroviaria Sud-Occidentale dello Stato di Bahia, antico nome della mitica E. F. I. C. (Ferrovia da Ilhéus a Conquista), che civilizzò e sviluppò la regione del Cacao, permettendo l'emergere di villaggi che presto sarebbero diventati città e comuni. Fu allora che, una mattina, credo fosse il marzo 1957, io, seduto su una delle panchine nell'atrio del palazzo, vidi giungere un portiere il quale mi disse che all'entrata c'era un gruppo di giovani che mi stavano cercando. Uscii e incontrai cinque facce quasi senza barba. Uno di loro mi salutò e, specificando che parlava a nome di tutti gli altri, esclamò con enfasi: “Siamo venuti qui per incontrare l'autore della poesia Composizione della ferrovia, per noi è il miglior poeta modernista di Bahia”.
Mi insospettii, ma, tra lo spaventato e l' incredulo, lo ringraziai per il gesto esilarante. Nome dell'eccentrico portavoce: Glauber Rocha, che poi mi invitò a casa sua al primo piano di via General Labatut, 13, dove era solito incontrare i suoi compagni per discutere su un elenco quasi infinito di preoccupazioni e aspirazioni moderniste.E come sarebbe avvenuto questo incontro? Dona Lúcia Rocha, la madre di Glauber, aveva una pensione a Barris, nella stessa strada, numero 14. Tutti noi allora vivevamo perennemente squattrinati. Ogni volta che Glauber ci invitava, prima andavamo in gruppo a pranzare alla pensione della sua amata madre. Poi la sera andavamo a casa sua.
Lì, nella stanza di Glauber, dove c'erano due letti singoli, ci sedevamo in otto o forse dieci, e discutevamo di letteratura, belle arti, teatro e cinema, leggendo brani di libri di autori e registi famosi, come il russo Eisenstein, il francese André Bazin, i creatori del neorealismo italiano, come Fellini, Visconti, Rosselini, i grandi di Francia, René Clair, Jean Renoir, Jean Cocteau e altri, gli americani che amava - Orson Wells, John Ford, Hitchcock, Bill Wilder e molti altri ancora. In quella stanza, a prova di cultura, ognuno parlava di un libro di prosa o di poesia che aveva letto, di un film che aveva visto, di una mostra di belle arti, e ognuno commentava arte e letteratura. Funzionava come una sorta di cooperativa di pensiero giovanile, con due letti come testimoni. A diciannove anni il futuro regista sembrava un creatore visivo. Vedeva scene di films in ogni cosa; descriveva come quella scena poteva essere vista, costruita, fotografata, filmata; tutto per lui poteva essere inquadrato. Quando una persona stava seduta su una sedia e parlava con un'altra persona, lui si metteva di fronte come se avesse la macchina fotografica in mano, indicando come sarebbe stata costruita l'immagine.
C'è un altro aspetto della mia relazione con Glauber Rocha. In quell'epoca le riforme dell'Università di Bahia permettevano che la pioniera Scuola di Teatro, situata nel quartiere di Canela, presentasse novità a tutti, prendendo brani del calibro dell' Amleto di Shakespeare, Madre Coraggio e l'Opera da Tre Soldi di Bertholt Brecht, Caligola di Albert Camus, tra altri di grande rilevanza.
All'epoca a Bahia fu fondato anche un nuovo giornale, che arrivò con l'intenzione di competere con il prestigio indissolubile di "A Tarde", e stava per accadere davvero. Il "Jornal da Bahia" venne considerato la nascita di un nuovo giornalismo. A tal fine si costituì una redazione che operava in maniera diversa e superiore rispetto a quella dei concorrenti, in quanto parte dei suoi componenti studiava all'università. È interessante notare che la Facoltà di Giurisprudenza ha fornito il maggior numero di componenti a questo gruppo, seguita da Medicina, Filosofia e Scienze umane.
Per far funzionare questa redazione, il giornale aveva bisogno che la sua composizione prendesse le distanze dallo spirito accademico passivo che ancora prevaleva in quello dei concorrenti, visto come resistente al muro del conservatorismo nello stile e nelle prestazioni. All'epoca, Glauber Rocha, che già frequentava la Facoltà di Giurisprudenza (che lasciò al primo anno), venne invitato a lavorare nella redazione del nuovo giornale e, per aiutare, cercò subito altri giovani della sua cerchia indicandoli alla direzione del “Jornal da Bahia”. Io fui uno di loro. È interessante notare che il futuro regista Glauber per me era un giornalista nell'animo. Tant'è che, per formare la base di contenuti per i suoi futuri film, come "Il Dio nero e il Diavolo biondo", "Antonio das Mortes" e "Terra in Trance", intraprese subito un viaggio nel Nordest. Questa esperienza è stata raccontata da João Carlos Teixeira Gomes, suo compagno di viaggio, nel settimanale "Caderno Cultural" de “A Tarde”. In esso, l'intenzione era di raccogliere sussidi essenziali per assemblare le sceneggiature dei suoi film, il che avrebbe notevolmente potenziato la sua arte cinematografica.
Noi quattro andammo al "Jornal da Bahia", eravamo io, João Carlos Teixeira Gomes e Paulo Gil Soares, per reportagens generali, Calazans Neto per il layout, mentre Glauber lavorava come redattore di cronaca nera. E qui c'è una delle sue storie che nessuno racconta. Io mi ricordo com'era il giornalista Glauber redattore di cronaca nera: fondamentalmente giornalista cineasta e cineasta giornalista, dal momento che assunse la funzione con il pensiero di cambiare il modo in cui venivano affrontate le questioni poliziesche, il modo in cui erano generalmente visti i crimini e le violazioni dell'ordine sociale.
Poiché il rapporto della polizia in quel momento, a Salvador, mostrava ancora tracce di una narrativa vecchia, Glauber disse che voleva qualcosa di diverso. Ci sono esempi. Ne ricordo uno, quello di un giorno in cui un ragazzo si era suicidato nella "città bassa" e faceva il semplice cameriere in una tavola calda all'ingresso dell'Elevador Lacerda. Glauber disse: "Facciamo l'articolo raccontando la storia di questo ragazzo", mostrando già che il caso non sarebbe stato trattato nello stile dell'attuale narrativa poliziesca. Quindi chiese al capo redattore se poteva avere un aiuto e scelse me: “Guarda, voglio che siaFlorisvaldo a fare questo lavoro”. Ascoltate le sue istruzioni, uscii dalla redazione facendo il tipico pellegrinaggio di chi deve raccontare una storia al cui centro c'è un personaggio praticamente senza storia. Quando arrivai alla tavola calda chiesi che mansione svolgesse lì il suicida. "Qui lui lavava i piatti." Rimasi colpito e da lì iniziai a raccogliere dati, seguendo varie piste.
Arrivai all'edificio dove si era ucciso, accanto alla chiesa Conceição da Praia, in una stanza al terzo piano. Lì annotai tutto ciò che serviva al contenuto della narrazione, intervistai persone che lo conoscevano e poi, con una mossa fortunata, seppi che aveva una ragazza che faceva la cassiera di una farmacia. Dato che c'erano poche farmacie, fu facile trovarla.
Lei viveva a Ribeira. Andai insieme a lei in autobus fino a casa sua, mi sedetti accanto a lei per intervistarla. Mi raccontò la sua storia e quella del fidanzamento. Scoprii che lei aveva inviato al giovane un biglietto per terminare il fidanzamento con lui e fu proprio questo il motivo del disincanto che portò il poveretto a porre fine alla sua vita. Aveva paura che il suo nome fosse pubblicato, stampato come notizia.
Avevo lasciato il giornale all'una; dopo tutto quel giro rientrai che erano le sette di sera. Mi sedetti davanti alla macchina Remington, scrissi la storia. Nell'edizione del giorno successivo, il racconto con la storia del giovane suicida occupava quasi tutta la pagina della sezione di cronaca nera, con la riproduzione del biglietto della fidanzata. Fu lì che venne fuori il vero Glauber, nel ruolo di redattore di cronaca nera. Infatti agì come un vero regista, come se pensasse alla sceneggiatura di un film. I fatti dovrebbero essere narrati come se si stesse componendo una sceneggiatura cinematografica. Per questi ed altri motivi lui era una straordinaria figura di giornalista.
In un'altra fase, poco tempo dopo, lavorai con Glauber per circa tre anni nel quotidiano "Diário de Notícias", finché si trasferì a Rio de Janeiro nel 1962. L'evento più importante accadde con la creazione del supplemento Domenica, resa celebre dalla sigla SDN, in grassetto in copertina. Lui, Paulo Gil e io, con la supervisione del giornalista Inácio de Alencar, allora redattore capo del giornale, praticamente inserimmo la "Geração Mapa" in questo supplemento che ancora oggii è un riferimento della storia culturale di Bahia della seconda metà del XX secolo, oggetto di ricerca nel campo degli studi universitari e per tutti gli studiosi. Nel “Diário de Notícias” svolse formalmente il ruolo di redattore per i racconti degni della prima pagina, ma fu anche l'ideatore della rubrica “Krista”, guidata da Helena Ignez, già attrice di teatro e cinema e sua compagna.
Come ho detto, stare accanto a Glauber Rocha, il regista, il giornalista, l'appassionato di cultura e l'amico sincero e solidale, avvenne praticamente ogni giorno fino al suo trasferimento a Rio dove si affermarono il suo nome, la sua opera cinematografica e molteplici azioni culturali. Guadagnò la notorietà nel mondo ed è forse la star più brillante della costellazione del cinema in Brasile. Anche quando si stabilì all'estero mi spediva lettere. Ecco perchè non mi stanco di dire: ero il suo ammiratore e fummo amici fino alla sua morte avvenuta il 22 agosto 1981. Ci manca ancora immensamente.
Non potrei concludere questo viaggio quasi tutto evocativo, senza fare riferimento ai tratti di Glauber Rocha, che potrebbero apparire contraddittori, vista la serietà che mostrava la sua personalità. A questo proposito, ricordo un episodio tanto comico quanto surreale, con protagonisti alcuni della nostra classe in una notte bohémienne. A metà ottobre 1958, un mese dopo la sua fondazione, il “Jornal da Bahia” effettuò il primo pagamento ai redattori, e così andammo in direzione per ricevere ciò che pensavamo di meritare. Prendemmo i soldi alla cassa e, di notte, insieme ad altri, felici e contenti, andammo tutti al Tabaris Night Club, una discoteca di musica e danza, frequentata da bohémiens e gente ricca.
Si presentava un balletto argentino composto da bellissime bionde e brune che ballavano il repertorio musicale alla moda - bolero, mambo, rumba , conga e tango - al suono di un'orchestra accordata e intelligente di fiati, archi e percussioni. Era comune durante le pause, come parte dell'attrazione, che le ballerine venissero ai tavoli per parlare, bere e persino ballare con i clienti. In questa serata inaugurale con donne al tavolo, bibite ecc, dopo uscimmo insieme alle donne del balletto. Fu allora che, verso mezzanotte, Glauber, protestante devoto, astemio totale, improvvisamente più irrequieto del solito, censurò i protagonisti della scena e protestò contro ciò che considerava eccessivo. All'improvviso, accigliato, salì su um tavolo e, alzandosi, iniziò a gridare, come fosse posseduto: “È assurdo! Portate quelle donne di Babilonia fuori di qui! " E, con un tono di esecrazione biblica, ripeté l'ultima frase più di una volta: "Portate queste donne di Babilonia fuori di qui!" Stordite, le ragazze e le compagne intorno a lui lo pregarono di calmarsi e di scendere. Quelli che erano seduti agli altri tavoli si fecero apprensivi. Fu allora che, in risposta alle grida, tra il serio e il bonario, il giocherellone "pastore ecclesiastico" scese dal tavolo provocando ilarità e risate.
L'EDIZIONE DEL MATTINO
(In memoria di Glauber Rocha, artista, amico e collega al giornale)
di
Florisvaldo Mattos
Non so altro che quello che mi dicono
gli ebdomadari perseguitati
i diari mancanti
libri censurati burocraticamente
i discorsi mai pronunciati
Tanto
di dolore claustrale
di rabbia contenuta
memoria disperata
Tanto
di letame pietrificato
di indebito martirio
fiele del verme dei fiori
Come in tutta l'esperienza umana
Come in tutte le verità proclamate
C'è il segno indelebile della sofferenza
sulle pagine infuriate
Non so altro che quello che mi dicono
rapporti
sormontati da tipi di scatola nera
vomitare
attraverso le finestre degli uffici
attraverso il cortile della scuola
capelli verdi
prati di giardini comunali
dalle officine meccaniche
attraverso le sbarre
spiagge e stadi sovraffollati
in autobus
in treno
in aereo
e navi che trasportano petrolio
dal mare
tutte le strade che iniziano nell'infanzia
Tutto ciò che la terra taceva e l'aria dimenticava
Tutto l'acqua è annegata e il fuoco ardeva
Tutto ciò che il sole nascondeva e la luna si bloccava
Tutto il giorno offuscato e la notte offesa
Attraverso questa finestra spalancata di fronte al mare
con l'orizzonte lustrato di nuvole chiare
la mattina di un dicembre morente
esplosioni di blu mi portano la storia
di tutto
timbrato sulle pagine con furia
dove non c'è segno grafico
senza nome
solo linee di sangue
vergogna e disperazione
Qualcosa letto non so dove
ma presto dimenticato
Qualcosa di scritto non so dove
ma presto cancellato
Qualcosa di riferito assenza
ma presto giustificato
Qualcosa di presenza intollerante
ma presto permesso
Qualcosa di dubbio sostenuto
ma presto annullato
Qualcosa che ha violato l'anima
ma presto con raffinato rigore
Qualcosa di stupefacente che popola le mura
Qualcosa con un pugnale che acceca le menti
Qualcosa di catastrofico nel rifugio dei miti
che non è mai venuto alla luce né è stato spiegato
Vieni da me attraverso la porta aperta di questa estate malata
echeggiando sul balcone delle pagine deserte
di edizioni che sanguinano goccia a goccia
nei reparti dell'accadere
(da ieri
di oggi
di domani
mai)
e acquista una velocità spaventosa
Perché la luce è forte e assordante
Perché il mare agitato si fa buio
Perché il vento viene ed esercita
il potere di lanciare la schiuma
contro le stelle addormentate
Perché la polvere della strada si annerisce
le vesti sulle corde abbandonate
Perché è presto e sappiamo tutti che è tardi
Appare un nuovo ciclope all'orizzonte
I corpi volano sui grattacieli
Perché la carne esausta si stacca
dalle ossa prima che il sale voli
Non so altro che quello che mi dicono
le pagine furiose dei diari muti
Responsabile Reportage Morto
Ed eravamo tutti tristi
Il crepuscolo della notte avanza attraverso l'alba
La nebbia è fitta e le macchine
scontro con i fari spenti
Vogliamo un'agenda
qualsiasi script
Non ciò che porta a chiarimenti
di tutta la colpa
Non cerchiamo di svelare l'impossibile
Vogliamo un'agenda
un percorso (ad esempio)
Comincia con gli articoli dei negozi di giocattoli
procedere con la quotazione per le ore di svago
Elenca la birra alla spina di tutte le taverne
Che riproduce tutte le risate del perimetro urbano
Questo fornisce il bollettino meteorologico più sicuro
Fagli sapere cosa sta succedendo nei cinema
Che nasconde i rifiuti gettati sui monumenti
Ciò stimola il Ba-Vi delle prime illusioni
Ciò apre i cuori ai riti del Candomblé
Questo dà versi alle canzoni del trio eletrico
Che vista del sudario dei festaioli di tutti i giorni
Questo prepara lo spirito di tutti per il carnevale
E quindi solo seguendo
il corso luminoso
di ogni segno morto
perforazione nella sabbia
di pagine deserte
bobine dell'orrore
macchie di vernice fresca
pista di piombo e insonne
Allora piangerò
tra le macerie
dell'edizione mattutina
(Salvador, agosto 1981)
Traduzione dal portoghese di Antonella Rita Roscilli
____________________________________________________________________________________
Florisvaldo Mattos. Nato a Uruçuca, Bahia (Brasile), è poeta e giornalista; professore in pensione presso la UFBA-Università Federale di Bahia, membro del gruppo nucleare della Geração Mapa, che si sviluppò a Salvador Bahia negli anni '60, sotto la guida del regista Glauber Rocha. Attualmente occupa il seggio n. 31 della ALB- Academia de Letras da Bahia. È autore dei seguenti libri: Reverdor, 1965, Fábula Civil, 1975, A Caligrafia do Soluço & Poesia Anterior, 1996 (Prêmio Ribeiro Couto, da União Brasileira de Escritores), Mares Anoitecidos, 2000, Galope Amarelo e outros poemas, 2001, Poesia Reunida e Inéditos, 2011, Sonetos elementais, 2012; Estuário dos dias e outros poemas, 2016, Antologia Poética e Inéditos, 2017 (todos de poesia); Estação de Prosa & Diversos, (collezione di saggi, racconti e teatro, 1997); e A Comunicação Social na Revolução dos Alfaiates, 2018 (3ª edição), e Travessia de oásis - A sensualidade na poesia de Sosígenes Costa, 2004, ambedue saggi. Ha lasciato il giornalismo nel 2011, nella posizione di Direttore editoriale del famoso quotidiano A Tarde, di Salvador (BA), dove aveva precedentemente diretto, dal 1990 al 2003, la sezione “Cultura”, premiata nel 1995 dall'Associazione dei Critici d'Arte di San Paolo - APCA.
© SARAPEGBE.
E’ vietata la riproduzione, anche parziale, dei testi pubblicati nella rivista senza l’esplicita autorizzazione della Direzione
TEXTO EM PORTUGUÊS (Testo in italiano)
Glauber Rocha, o criador que conheci
por
Florisvaldo Mattos

Glauber Rocha e Florisvaldo Mattos. 1976
Na Bahia ainda há gestos de reconhecimento a nomes que muito fizeram pela sua cultura, como o do saudoso amigo Glauber Rocha, reconhecidamente um ícone da cultura baiana, como um artista de fortíssimo poder criativo que, embora tenha morrido cedo demais, situa-se no mesmo nível de ilustres nomes da cultura baiana, como Gregório de Mattos, Castro Alves, Ruy Barbosa, Jorge Amado, Anísio Teixeira e Dorival Caymmi. Para mim, ocupa confortavelmente esse pódio de grandes criadores, um patrimônio da inteligência brasileira.
Durante um seminário promovido pela Secretaria da Educação sobre memória do cinema baiano, escolhi, eu próprio, este título para a minha elocução, desde que não poderia discorrer sobre tão ilustre tema, tendo ao lado Umbelino Brasil, um competente e conceituado professor e ensaísta de cinema e o professor Humberto Alves, escolhido para falar sobre Glauber Rocha, o cineasta revolucionário. Então, debrucei-me sobre a figura de Glauber Rocha do ponto de vista de quem, cultural e fraternalmente, com ele conviveu, por cerca de oito anos consecutivos, desde o momento que se voltou para a criação artística, com um irrequieto jovem começando a desvendar caminhos. Este prazer foi impulsionado de maneiras diversas, seja por encontros em foyers e salas de cinema, em halls de faculdade, portas de livrarias, redações de jornal, bares e sorveterias, seja por êxtases outros, que enriqueciam o trajeto de um fúlgido grupo que ficou na memória cultural da Bahia sob o rótulo de Geração Mapa, pelo que pensou, pregou e construiu.
Para que se entenda o que foi esta chamada Geração Mapa e o seu significado, até do próprio Glauber Rocha, é preciso que se compreenda como se desenvolveu a presença do modernismo na Bahia e de que forma as ideias dessa revolução estética, detonadas pela Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, se propagaram pelo Brasil, como sempre começando pelos estados mais próximos até chegar aos mais distantes. Assim, o modernismo chegou à Bahia com faustoso retardamento. Por isso, a adesão total e a consolidação dessa revolução estética, que realmente iriam transformar o ambiente cultural baiano, influindo na qualidade da produção de escritores e artistas, só aconteceriam alguns anos depois. Nesta perspectiva, o primeiro passo foi dado por três poetas, logo após a Semana de Arte Moderna: Godofredo Filho (1904-1992), Carvalho Filho (1908-1994) e Eurico Alves Boaventura (1909-1974), este, natural de Feira de Santana, como o primeiro, que eu considero o nosso principal e quase único poeta futurista.
A segunda onda ocorreria com a geração que atuou sob a liderança do poeta Pinheiro Viegas (1874-1937) entre fins da década de 1920 e inícios dos anos 1930, denominada Academia dos Rebeldes, cujos nomes principais eram Jorge Amado, Édison Carneiro, logo depois um dos maiores etnólogos do país, Sosígenes Costa, hoje esquecido, mas um dos nossos mais criativos poetas, Alves Ribeiro, que depois se tornaria destacada figura da Justiça do Trabalho, João Cordeiro, autor do romance Corja, Clóvis Amorim, que publicaria os romances O alambique e Chão de Massapê.
O terceiro momento só acontecerá em 1948, com a intitulada Geração Caderno da Bahia, formada por jovens na época possuídos de forte ambição intelectual. Vale ressaltar um fato insólito precedente: na Bahia, o modernismo nas artes plásticas surgiu ou foi pioneiramente apresentado ao público, por incrível que pareça, em 1932, por um pintor chamado José Guimarães, a quem se deveu a primeira exposição em Salvador dentro dessa nova ordem estética. Aconteceu no hall do edifício do jornal A Tarde, na Praça Castro Alves, em 1932. Identificava-se como portador de novas ideias que dominavam a Europa, a partir de Paris, onde convivera com expoentes da vanguarda nas artes plásticas. Daqui Guimarães seguiu para o Rio de Janeiro, onde morreria alguns anos depois praticamente ignorado.
Nesta terceira fase, surgiria algo novo e fundamental no processo: a presença de realizadores nas artes plásticas, o que não acontecera na década de 1920, tampouco na da geração dos anos 1930. Esses novos criadores são jovens imbuídos de cogitações estéticas avançadas, como Mário Cravo, Carlos Bastos, Jenner Augusto, Rubem Valentim, o argentino Carybé, todos eles pintores, e o tapeceiro Genaro de Carvalho, mas já se percebia no movimento evidências pujantes de diversificação nas linguagens artísticas. Na literatura em prosa, eram destaques Vasconcelos Maia e José Pedreira, enquanto na poesia pontificavam Wilson Rocha, seu irmão Carlos Eduardo da Rocha, Cláudio Tuiuti Tavares, Camilo de Jesus Lima e o mais jovem de todos, Jair Gramacho. No jornalismo e na editoração, despontavam Heron de Alencar e Adalmir da Cunha Miranda, responsáveis por fundarem na Faculdade de Direito a famosa revista “Ângulos”. Essa amálgama denunciava panorama estimulador e bem mais amplo no campo da criatividade e produção artísticas.
O salto seguinte, que ocorreria na segunda metade dos anos 1950, percorrendo toda a década de 1960, foi justamente o do grupo de jovens que, liderado por Glauber Rocha, assumiria a criação artística com novas opções de linguagem. Entre eles, havia artistas plásticos, como o pintor Sante Scaldaferri, Hélio Oliveira, um inspirado gravador, morto aos 31 anos, em 1960, e o depois mestre da gravura Calazans Neto. Proliferavam a prosa e a poesia, agora com Fernando da Rocha Peres, João Carlos Teixeira Gomes, Carlos Anísio Melhor, Paulo Gil Soares, Fred Souza Castro, mas destampava inédita novidade: no âmago desse movimento cultural emergia uma nova linguagem artística, o Cinema, carreando com ele o Teatro. Favoreceu muito esse aglutinamento cultural de jovens a grande reforma que o reitor Edgard Santos empreendia na então Universidade da Bahia, que depois seria federalizada, obra que até hoje reforça o reconhecimento por ele realizado, desde que dali surgiram Escolas de Arte, como Teatro, Música e Dança, e a reestruturação da Escola de Belas Artes, que existia desde o século XIX, mas só viria realmente funcionar com desenho moderno, a partir desse potente reitorado.
Estas ações foram importantes porque trouxeram à Bahia novos criadores e novos animadores do processo cultural, como Martins Gonçalves, criador da Escola de Teatro, Ernst Widmer, na Escola de Música; para a arquitetura, Lina Bo Bardi, depois fundadora do Museu de Arte Moderna da Bahia. Muitos dos componentes da geração conviviam e alguns até trabalhavam com Lina Bo Bardi, na sede do MAM-BA, instalada no que restava do incêndio do Teatro Castro Alves ocorrido em 1958. Como restara o foyer e ao fundo a caixa do palco, Lina Bo Bardi, com a sua inteligência criativa, reformou-os e lhes deu novo sentido. Fez do foyer a sala de exposição do museu e, no espaço sob o palco, montou uma espécie de estrutura administrativa. Então, o Museu começou a funcionar, para depois, em 1963, o governador Juraci Magalhães dar sede ao Museu de Arte Moderna com a restauração do conjunto do Solar do Unhão e com todas as suas dependências, a Igreja, Capela e restantes galpões que teriam sido senzala no passado.
Então, “Geração Mapa” instaurou-se nesta Bahia em plena efervescência cultural, para afirmar a sua inclinação, sua vocação para as Letras e as Artes, fosse a literatura, a poesia, as artes plásticas, mas agora também o Cinema e o Teatro, mas precisava ter um líder, uma figura de expressão, um talento fora do comum, qualidades que naturalmente se concentravam em Glauber Rocha. Por sinal, quando ele tinha mais ou menos 14 anos, já numa sala de cinema, logo após a inauguração do Cine Guarany, no lugar onde fora o Teatro Carlos Gomes, nos encontramos pela primeira vez, ele, um adolescente de cabelo revolto, quase um guri apaixonado pelo Cinema.
Fomos apresentados por Walter da Silveira, que eu conhecera pela mão do poeta Sosígenes Costa. Como eu havia estudado em Ilhéus, visitava Sosígenes, em sua sala na secretaria da Associação Comercial de Ilhéus, aprendendo com ele novidades de poesia moderna que eu não conhecia. Walter da Silveira era uma espécie de guru do cinema, principal conhecedor dessa arte na Bahia. Além de Glauber, como crítico influenciou outros, que viriam depois, como Orlando Sena, Hamilton Correia, José Humberto entre outros, pouca gente, mas que surgiu por influência dele. Apresentados, daí por diante, nos encontrávamos em sessões de cinema, inclusive pré-estreias no Cine Guarani, que se tornaria hábito regular aos domingos, ou nas sessões do Clube Cinema, criado justamente por Walter da Silveira, em esporádicos lançamentos de livro, exposições de arte e eventos outros.

Integranti della G.M.
Então esse Glauber rapaz estava naquela fase de alguém em busca de crescer, de se afirmar culturalmente. Fomos ficando mais próximos, aumentando-se os contatos, até me tornar um dos espectadores dos espetáculos de poesia teatralizada, as famosas “Jogralescas”, que ele e outros da geração, ainda estudantes secundaristas, levaram no auditório do Colégio da Bahia, o depois Central. O grupo se compunha de umas 15 pessoas, a declamarem poemas de modernistas, como Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Mário de Andrade, Jorge de Lima, Manuel Bandeira, quer dizer poetas do modernismo, central, forte, que, de certa forma, na segunda metade da década de 50, eram ainda novidades na Bahia, mas com tal arrebatamento, que causaram escândalo no meio cultural e ameaças, exigindo a interferência de apaziguadores de dentro e de fora do colégio. Com Calasans Neto como cenógrafo, Glauber foi o organizador, quem escreveu o roteiro e dirigiu os três espetáculos dessa extraordinária aventura cultural.
Como eu estudava na Faculdade de Direito e ele ainda estava no final do curso de colégio, encontrávamos pouco; mas recordo o encontro que me lançaria nessa caudal de sonhos, com moldura exótica, senão cômica. Acabava eu de publicar no nº 11 da revista Ângulos o poema intitulado “Composição de ferrovia”, quase um hino telúrico à State of Bahia South Western Railway Company, antigo nome da depois mítica E. F. I. C. (Estrada de Ferro de Ilhéus a Conquista), que civilizou e desenvolveu a Região do Cacau, permitindo o surgimento de vilas, que logo seriam cidades e municípios. Foi quando, certa manhã, creio que de março de 1957, eu, sentado num dos bancos do hall do edifício, veio um porteiro me avisar que um grupo de jovens estava na porta e queria comigo vêm me avisar que procuravam por mim na portaria.
Saio para o umbral e me deparo com cinco rostos quase imberbes. Logo, um deles me saúda e, dizendo falar em nome dos outros, exclama, enfático: “Viemos aqui para conhecer o autor do poema “Composição de ferrovia”, para nós o melhor poeta modernista da Bahia”. Ouvi desconfiado, mas, entre assustado e incrédulo, agradeci o hilariante gesto. Nome do excêntrico porta-voz: Glauber Rocha, que, em seguida, me convida a ir à sua casa, na Rua General Labatut, 13, 1º andar, onde costumava reunir-se com os companheiros, para discutir uma quase infinita pauta de inquietações e aspirações modernistas.
E como se daria este convívio? Dona Lúcia Rocha, mãe de Glauber, possuía uma pensão nos Barris, à mesma rua, nº 14. Todos vivíamos então em permanente escassez financeira; sempre que convidados por Glauber, íamos em grupo almoçar na pensão de sua amada genitora. À noite, íamos para a casa dela. Lá, no quarto de Glauber, onde havia duas camas de solteiro, ficávamos uns oito a dez rapazes sentados, a discutir literatura, artes plásticas, teatro e cinema, ele a ler trechos de livros de consagrados autores e diretores de cinema, tais como o russo Eisenstein, o francês André Bazin, os criadores do neo-realismo italiano, como Fellini, Visconti, Rosselini, os grandes da França, René Clair, Jean Renoir, Jean Cocteau e outros, e os americanos que ele adorava - Orson Wells, John Ford, Hitchcock, Bill Wilder e tantos mais.
Naquele quarto, como prova de atualidade cultural, cada um dissertava sobre um livro, de prosa ou poesia, que lera, de um filme a que assistira, de uma exposição de artes plásticas, cada um a expor impressões sobre forma e conteúdo em obras de arte e literatura. Funcionava como uma espécie de cooperativa juvenil do pensamento, com duas camas de testemunha. Mal chegado aos dezenove anos, o futuro cineasta semelhava um criador visual de nascença. Via cena de cinema em tudo; descrevia a forma como aquela cena poderia ser vista, construída, fotografada, filmada; tudo para ele devia possui um enquadramento. Estando uma pessoa sentada numa cadeira, a conversar com outra, ele se postava diante, como se estivesse com a câmera na mão, a indicar como seria construída a imagem.
Há outra faceta de minha convivência com Glauber Rocha. Nesta época, as reformas na Universidade da Bahia, permitiam que a pioneira de Teatro, situada no bairro do Canela, apresentasse novidades para todo mundo, levando peças do quilate de Hamlet, de Shakespeare, Mãe Coragem e Ópera dos Três Tostões, de Bertholt Brecht, Calígula, de Albert Camus, entre outras de magna importância.
Na ocasião, fundava-se também um novo jornal na Bahia, que chegava com a pretensão de concorrer com o então inquebrantável prestígio de “A Tarde”, o que realmente iria acontecer. O “Jornal da Bahia” chegava para ser considerado o novo jornalismo. Para tanto, constituiu uma redação, que funcionasse de forma diversa e superior à dos concorrentes, desde que parte de seus componentes era arregimentada nas faculdades. Interessante é que quem mais forneceu componentes para esse grupo foi a Faculdade de Direito, vindo a seguir a de Medicina e de Filosofia e Ciências Humanas.
Para fazer com que essa redação funcionasse o jornal necessitava que sua composição se distanciasse do espírito academicista, passadista, que ainda predominava nas dos concorrentes, vistas como resistente a muralha de conservadorismo, em estilo e desempenho. Na ocasião, já cursando a Faculdade de Direito (abandonou-a no primeiro), Glauber Rocha, foi convidado para compor a equipe de reportagem do novo jornal e, parecendo proposital, logo tratou de procurar jovens que conviviam com ele, indicando-os à direção do “Jornal da Bahia”. Fui um deles. Interessante aí é que, como futuro cineasta Glauber era, para mim, no íntimo um jornalista. Tanto assim que, para formar a base de conteúdo dos seus futuros filmes, como “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, “Dragão da Maldade” e “Terra em Transe”, logo depois fez uma viagem ao Nordeste. Essa experiência foi narrada por João Carlos Teixeira Gomes, seu companheiro de viagem, no semanal Caderno Cultural, de “A Tarde”. Nela, a intenção era colher subsídios essenciais para montar os roteiros de seus filmes, o que em muito iria impulsionar a sua arte cinematográfica.
E nós fomos, os quatro, para o “Jornal da Bahia”, eu, João Carlos Teixeira Gomes e Paulo Gil Soares, para a reportagem-geral, e Calazans Neto, para a diagramação, enquanto Glauber foi nomeado editor de polícia. E aí reside uma das histórias dele que ninguém conta. Editor de polícia, me lembro como era o Glauber jornalista: no fundo, jornalista cineasta e cineasta jornalista, posto que assumiu a função com o pensamento de mudar a forma como eram em geral encarados os assuntos na área policial, os crimes e as ações de violação da ordem social, mas para o que vinha com ideias.
Como a reportagem policial nessa época, em Salvador, ainda exibia traços de narrativa viciada, sobrecarregada de cacoetes, Glauber dizia querer algo diferente. Há exemplos. Recordo-me de um deles, o de um dia em que um rapaz se suicidara na Cidade Baixa e era simples empregado de uma lanchonete situada na entrada do Elevador Lacerda. Matara-se um jovem. Então Glauber diz: “Vamos fazer a reportagem, contando a história desse rapaz”, dispersando a impressão de que o caso seria tratado dentro no estilo da narrativa policial vigente. Então, pede ao chefe de reportagem geral que designasse um de seus comandados. Fui o escolhido por ele mesmo: “Olhe eu quero que Florisvaldo vá fazer esse trabalho”.
Então, depois de ouvir as suas orientações, saí da redação, na típica peregrinação de quem vai contar uma história, em que o ponto central era um personagem praticamente sem história nenhuma. Em lá chegando, perguntei na lanchonete sobre o que fazia o suicida. “Ele aqui lavava os pratos”. Levei um choque e, a partir daí, comecei a colher dados, seguindo os rastros. Cheguei ao prédio onde ele se matara (junto da Igreja da Conceição da Praia), num quarto do terceiro andar. Lá anotei tudo o que servisse ao conteúdo da narrativa, entrevistei pessoas, que o conheciam e depois, num lance de sorte, fui informado de que ele tinha uma namorada que era caixa de uma farmácia. Como haviam poucas farmácias ficou fácil, pois encontrei a moça.
Ela morava lá na Ribeira e eu aí fui com ela de ônibus até a sua casa, sentado a seu lado, a entrevistá-la. Contou-me sua história e a do namoro. Descobri que ela tinha mandado um bilhete para ele desfazendo o namoro e foi a razão do desencanto, que levaria o pobre coitado a pôr fim à vida. Estava receosa de ter seu nome divulgado publicamente, estampada como notícia policial.
Saíra do jornal a uma hora da tarde; após todo esse périplo, quando retornei era sete da noite. Sentei em frente à máquina Remington, escrevi a reportagem. Na edição do dia seguinte, a matéria com a história do jovem suicida ocupava quase página inteira da seção de polícia, com a reprodução do bilhete da namorada. Estava ali demostrado quem era o verdadeiro Glauber, no exercício do cargo de editor de polícia; na verdade, agia como um autêntico cineasta, atuando na editoria de polícia como que pensando no roteiro para um filme, os fatos deveriam ser narrados como a compor um roteiro cinematográfico. Por essas e outras, foi uma figura extraordinária de jornalista.
Em outra fase, pouco depois, convivi com o Glauber no jornal “Diário de Notícias”, durante uns três anos, até ele se mudar para o Rio de Janeiro, em 1962. Lá o acontecimento mais importante traduziu-se na criação do seu suplemento dominical, que ficou famoso pela a sigla SDN, em letras garrafais na capa. Nós, ele, Paulo Gil e eu, na verdade, com a supervisão do jornalista Inácio de Alencar, então editor-chefe do jornal, instalamos praticamente a “Geração Mapa” neste suplemento, o que passou a ser, até hoje, uma referência da história da cultural da Bahia, na segunda metade do século XX, objeto de pesquisas na área de pós-graduação universitária, como também de outros interessados. No “Diário de Notícias” formalmente desempenhou a função de copidesque para as matérias dignas de chamadas na primeira página das edições, mas foi também o criador da coluna social, intitulada “Krista”, comandada por Helena Ignez, já atriz de teatro, de cinema, e sua mulher.
Como disse, a convivência com Glauber Rocha, o cineasta, o jornalista, o entusiasta da cultura e o amigo sincero e solidário, era praticamente cotidiana, até sua mudança para o Rio, onde seu nome, sua obra cinematográfica e múltiplas ações culturais se firmaram e ganharam o mundo, tornando-o talvez mais cintilante astro na constelação do cinema no Brasil. Mesmo quando fixou residência no exterior, de onde me enviava cartas, era uma visita que eu contava como certa. Por isso não me canso de afirmar: fui seu admirador confesso e fomos amigos, até ele morrer, em 22 agosto 1981. Resta a saudade imensa.
Não poderia encerrar este percurso cordial quase inteiramente evocativo, sem me referir a traços de Glauber Rocha, que pareceriam contraditórios, ante a sisudez que sua personalidade deixava transparecer. Nesse aspecto, relembro episódio tão cômico quanto surrealista, protagonizado por alguns de nossa turma numa noite de boemia quase estreante. Em meados de outubro de 1958, um mês depois de fundado, o “Jornal da Bahia” fazia o primeiro pagamento dos que compunham a sua equipe de Redação, e lá fomos receber no guichê da gerência o de que achávamos merecedores. Pegamos o dinheiro curto no caixa e, à noite, com a adesão de mais alguns, alegres e felizes, marchamos todos para o Tabaris Night Club, casa noturna de música e dança, frequência de boêmios e endinheirados, que na ocasião apresentava um balé argentino, composto de belas loiras e morenas, dançando o repertório musical da moda - bolero, mambo, rumba, conga e tango, ao som de uma afinada e esperta orquestra de sopro, cordas e percussão.
Era comum nos intervalos, como parte da atração, as bailarinas virem às mesas, conversar, beber e até dançar com os clientes. Nesta para nós noite inaugural, mulheres na mesa, bebendo, saímos alguns a dançar, inclusive com as do balé. É quando, perto da meia-noite, Glauber, um protestante de devoção arredia, abstêmio total, subitamente mais inquieto que o normal, passa a censurar os protagonistas da cena e a protestar contra o que considerava excessivo. Mais que de repente, de cenho fechado, sobe na mesa e, em pé, põe-se lá de cima a bradar, possesso: “É um absurdo! Tirem daqui essas mulheres de Babilônia!” E, em tom de execração bíblica, repete mais de uma vez a última frase - ”Tirem daqui essas mulheres de Babilônia!”. Aturdidos, as moças e companheiros em volta rogam-lhe que tenha calma e desça. Os de outras mesas se voltam apreensivos. É quando, atendendo aos clamores, entre o sério e o bonachão, o arremedo de pastor eclesiástico desce da mesa, provocando risos mochos e até gargalhadas.
A EDIÇÃO MATUTINA
(À memória de Glauber Rocha, artista, amigo e companheiro de jornal)
Florisvaldo Mattos
Nada sei além do que me contam
os hebdomadários perseguidos
os diários desaparecidos
os livros burocraticamente censurados
os discursos jamais pronunciados
Muito
de dor enclausurada
de raiva contida
de memória desesperada
Muito
de petrificado esterco
de martírio indevassado
fel de carcomida flor
Como em toda experiência humana
Como em toda verdade proclamada
Há a marca indelével do sofrimento
nas páginas enfurecidas
Nada sei além do que me contam
relatórios
encimados por tipos de caixa negros
vomitando
pelas janelas dos escritórios
pelos pátios dos colégios
pelos verdes
gramados dos jardins municipais
pelas oficinas mecânicas
pelos bares
pelas praias e estádios superpovoados
pelos ônibus
pelos trens
pelos aviões
e navios que levam petróleo
pelo mar
por todas as estradas que começam na infância
Tudo o que o chão calou e o ar esqueceu
Tudo o que a água afogou e o fogo torrou
Tudo o que o sol escondeu e a lua gelou
Tudo o que o dia borrou e a noite ofendeu
Por esta janela escancarada diante do mar
com o horizonte lantejoulado de nuvens claras
na manhã de um dezembro moribundo
rajadas de azul me trazem a história
de tudo
estampada na páginas em fúria
onde não há nenhum signo gráfico
nenhum nome
somente linhas de sangue
vergonha e desespero
Algo lido não sei onde
mas logo esquecido
Algo escrito não sei onde
mas logo apagado
Algo de ausência denunciada
mas logo justificada
Algo de presença intolerada
mas logo consentida
Algo de dúvida arguida
mas logo desfeita
Algo que violou a alma
mas logo com rigor apurado
Algo de assombro que povoa os muros
Algo de aceso punhal que cega as mentes
Algo catastrófico no refúgio dos mitos
que nunca veio à luz nem foi explicado
Vem-me pela porta aberta desse verão doente
ecoando na varanda das páginas desertas
das edições que sangram gota a gota
nas enfermarias do acontecer
(de ontem
de hoje
de amanhã
de sempre)
e adquire uma velocidade assustadora
Porque a luz é forte e ensurdece
Porque o agitado do mar escurece
Porque chega o vento e exerce
o poder de lançar a espuma
contra as estrelas adormecidas
Porque a poeira da rua enegrece
as vestes nos varais abandonados
Porque é cedo e todos sabemos que tarda
Um novo ciclope no horizonte aparece
Os corpos voam sobre os arranha-céus
Porque a exausta carne se desprende
dos ossos ante petardos de sal
Nada sei além do que me contam
as furiosas páginas dos diários mudos
Morreu o Chefe de Reportagem
E ficamos todos tristes
A penumbra da noite avança pelo amanhecer
A neblina é densa e os automóveis
entram em choque de faróis apagados
Queremos uma pauta
um roteiro qualquer
Não o que leve ao esclarecimento
de todas as culpas
Não buscamos desvendar o impossível
Queremos uma pauta
um caminho (por exemplo)
Que comece pelos itens das lojas de brinquedos
prossiga com a listagem para as horas de lazer
Que enumere os chopes de todos os botequins
Que reproduza todas as gargalhadas do perímetro urbano
Que forneça o mais seguro boletim meteorológico
Que informe o que se passa nos cinemas
Que esconda os dejetos lançados sobre os monumentos
Que estimule o Ba-Vi das ilusões primeiras
Que abra os corações aos ritos do candomblé
Que dê verso às canções dos trios-elétricos
Que vista a mortalha dos foliões de todos os dias
Que prepare o espírito de todos para o Carnaval
E assim seguindo apenas
o curso luminoso
de cada signo morto
perfurando o arenoso
das páginas desertas
bobinas de horror
manchas de tinta fresca
chumbo e insone rastro
Chorarei então
por entre os escombros
da edição matutina
(Salvador, agosto de 1981)
© SARAPEGBE.
E’ vietata la riproduzione, anche parziale, dei testi pubblicati nella rivista senza l’esplicita autorizzazione della Direzione

Florisvaldo Mattos. Nascido em Uruçuca, Bahia (Brasil), Florisvaldo Mattos é poeta e jornalista; professor aposentado da Universidade Federal da Bahia, membro do grupo nuclear da Geração Mapa, que atuou na Bahia, nos anos 1960, sob a liderança do cineasta Glauber Rocha, atualmente ocupa a Cadeira nº 31, da Academia de Letras da Bahia. É autor dos seguintes livros: Reverdor, 1965, Fábula Civil, 1975, A Caligrafia do Soluço & Poesia Anterior, 1996 (Prêmio Ribeiro Couto, da União Brasileira de Escritores), Mares Anoitecidos, 2000, Galope Amarelo e outros poemas, 2001, Poesia Reunida e Inéditos, 2011, Sonetos elementais, 2012; Estuário dos dias e outros poemas, 2016, Antologia Poética e Inéditos, 2017 (todos de poesia); Estação de Prosa & Diversos, (coletânea de ensaios, ficção e teatro, 1997); e A Comunicação Social na Revolução dos Alfaiates, 2018 (3ª edição), e Travessia de oásis - A sensualidade na poesia de Sosígenes Costa, 2004, ambos de ensaio. Afastou-se do jornalismo em 2011, no cargo de Diretor de Redação do jornal A Tarde, de Salvador (BA), onde antes dirigira, de 1990 a 2003, o caderno “Cultural”, premiado em 1995 pela Associação Paulista de Críticos de Arte - APCA.